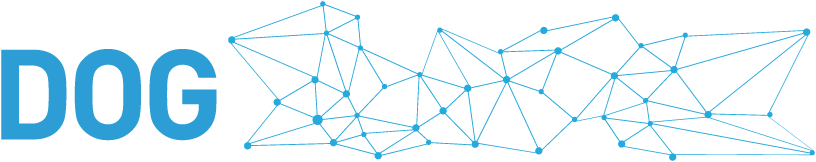O Decreto 86/2015, de 25 de junho, pelo que se estabelece o currículo da educação secundária obrigatória e do bacharelato na Comunidade Autónoma da Galiza, tanto no artigo 13.3 e 13.4 como nos artigos 30.5, 30.6, 31.5 e 31.6, estabelece a possibilidade de que a conselharia com competências em matéria de educação possa oferecer matérias de livre configuração autonómica elixibles pelos centros docentes no horário estabelecido de livre configuração.
Em virtude da citada habilitação normativa ditaram-se, respectivamente, a Ordem de 15 de julho de 2015 pela que se estabelece a relação de matérias de livre configuração autonómica de eleição para os centros docentes nas etapas de educação secundária obrigatória e bacharelato, e se regula o seu currículo e a sua oferta, e a Ordem de 13 de julho de 2016 pela que se alarga a relação de matérias de livre configuração autonómica de eleição para os centros docentes nas etapas de educação secundária obrigatória e bacharelato, e se regula o seu currículo e a sua oferta.
Com o objecto de seguir incrementando as opções de eleição dos centros docentes, dentro do seu marco de autonomia, e do seu estudantado, alarga-se o número de matérias de livre configuração autonómica, de modo que se adecuen aos projectos educativos dos centros docentes ao tempo que se desenvolvem as competências chave e os elementos transversais.
Em consequência, de conformidade com o exposto e no uso da habilitação normativa que figura na disposição derradeiro segunda do Decreto 86/2015, de 25 de junho, como conselheiro de Cultura, Educação e Ordenação Universitária,
ACORDO:
Artigo 1. Objecto e âmbito de aplicação
1. Esta ordem tem por objecto alargar a relação de matérias de livre configuração autonómica propostas pela Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária e elixibles pelos centros docentes dentro do horário de livre configuração em educação secundária obrigatória, assim como regular o seu currículo e a sua oferta.
2. Esta ordem será de aplicação em todos os centros docentes dependentes da Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária que dêem os ensinos mencionados.
Artigo 2. Novas matérias de livre configuração autonómica elixibles
1. Os centros docentes, ademais das matérias estabelecidas na Ordem de 15 de julho de 2015 pela que se estabelece a relação de matérias de livre configuração autonómica de eleição para os centros docentes nas etapas de educação secundária obrigatória e bacharelato, e se regula o seu currículo e a sua oferta, e na Ordem de 13 de julho de 2016 pela que se alarga a relação de matérias de livre configuração autonómica de eleição para os centros docentes nas etapas de educação secundária obrigatória e bacharelato, e se regula o seu currículo e a sua oferta, poderão oferecer, em função da disponibilidade dos recursos e da organização do centro, as seguintes matérias: Identidade Digital, Consumo Responsável, Valores Democráticos Europeus e Mobilidade Escolar Sustentável e Segura.
2. As matérias poderão oferecer-se em primeiro e/ou segundo curso de educação secundária obrigatória. O estudantado poderá cursá-la num dos cursos segundo a oferta estabelecida pelo centro docente. De acordo com o estabelecido no artigo 3.2 da Ordem de 15 de julho de 2015, esta matéria terá um ónus horário de um período lectivo semanal.
3. Os requisitos para a oferece das matérias pelos centros docentes serão os estabelecidos no artigo 4 da Ordem de 15 de julho de 2015.
4. Como anexo a esta ordem inclui-se o currículo das novas matérias de livre configuração autonómica relacionadas no ponto 1 deste artigo.
Disposição derradeiro primeira. Desenvolvimento
Faculta-se a Direcção-Geral de Educação, Formação Profissional e Inovação Educativa para adoptar os acordos e ditar as resoluções que considere oportunas no desenvolvimento desta ordem.
Disposição derradeiro segunda. Entrada em vigor
Esta ordem entrará em vigor o dia seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.
Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2017
Román Rodríguez González
Conselheiro de Cultura, Educação e Ordenação Universitária
ANEXO
Matérias de livre configuração autonómica de eleição para os centros
docentes em educação secundária obrigatória
Identidade Digital
Introdução
Esta matéria de livre configuração para os cursos 1º ou 2º de ESO é uma proposta à disposição dos centros com o fim de facilitar o tratamento, de forma intensiva ao longo de um curso escolar, dos contidos relacionados com a identidade digital, percebida como o conjunto da informação sobre um indivíduo ou organização exposta na internet (dados pessoais, imagens, registros, novas, comentários, etc.) que conformam uma descrição deste ente no plano digital. Aborda-se o seu conhecimento desde o fomento de uma cultura de participação activa e positiva. A matéria procura afastar de uma visão centrada nos riscos mas não renúncia ao seu tratamento, que se procurará observando o conflito como uma oportunidade. Por outro lado, esta é uma matéria específica sobre identidade digital e não pretende estender o seu objecto de trabalho a todos os âmbitos de interesse da internet.
No campo das ciências sociais a identidade é a concepção e expressão que tem cada pessoa acerca da sua individualidade e a sua pertença, ou não, a verdadeiros grupos. Com o desenvolvimento da sociedade do conhecimento este conceito está a sofrer rápidos e importantes mudanças. Com a mistura inseparable da identidade digital, a identidade analóxica está-se a converter numa identidade híbrida, e a nossa interacção nas redes influi, cada vez mais, na nossa vida fora delas. Estamos diante de um novo processo de construção social onde a identidade digital se edifica, na maioria dos casos, de modo involuntario e inconsciente. Esta realidade põe de manifesto a necessidade de trabalhar a identidade digital desde a escola, contribuindo assim a uma das finalidades principais do sistema educativo público: ajudar a compensar possíveis carências no contorno social, cultural ou económico.
Ademais, faz-se necessária uma gestão eficiente da identidade digital por parte do estudantado, que minimize as consequências indesejáveis produzidas pelas dificuldades no exercício, ou mesmo ausência, do direito ao esquecimento, e o coste das ferramentas necessárias para a gestão da sua privacidade que favoreça a sua participação em todos os âmbitos da vida futura e, em especial, para a construção de uma reputação na rede que ajude na construção dos projectos de vida pessoal e profissional.
Apesar de que na última década se produziram importantes avanços na dotação de meios de acesso à rede, a competência no uso da informação segue a ser um elemento chave para conseguir reduzir a fenda digital e social. A educação constitui um instrumento fundamental para mudar esta situação de desigualdade em que as jurisdições nacionais se vêem superadas pelos reptos que se estão a dar a nível global.
A matéria estrutúrase em três blocos diferenciados. O primeiro deles, denominado A identidade do ser humano racional. Direitos e dignidade pessoal, trata de situar psicológica e socialmente o termo «identidade» como uma concepção própria do indivíduo que pertence a um colectivo mais amplo (sociedade); trata também de identificar o conceito de intimidai como uma construção cultural enquadrada numa época histórica concreta que, na sociedade do conhecimento, dá lugar a conceitos e realidades novas sobre as que é preciso reflectir. Trabalha desde a necessidade de dar soluções a situações sociais mediante o conhecimento dos direitos e o conflito que existe entre eles. Busca-se evitar uma perspectiva baseada na justiça punitiva e favorecer práticas de prevenção positivas, que não desprezem a relação entre adolescencia e internet e contem com eles e elas. A perspectiva culpabilizadora não empodera, não consciência e não observa a oportunidade para o fomento da criatividade nem do compromisso social. Neste bloco trabalham-se diferentes conceitos e normas relacionadas com a liberdade de expressão, liberdade de informação, a protecção de dados, a privacidade ou a propriedade intelectual, assim como o direito ao esquecimento ou a fenda digital.
No segundo bloco, A identidade digital, trabalha-se a fundo o conceito desde um ponto de vista individual, social e de interacção; analisa-se o tratamento que os serviços mais comuns de redes sociais fã da privacidade e oferece pautas para a sua gestão, questões chave para garantir os direitos pessoais. Ademais, estuda-se o significado de conceitos como o de reputação em linha e marca digital, elementos que favorecem a empregabilidade. No seu conjunto pretende-se dotar o estudantado de ferramentas que contribuam a uma participação na sociedade do conhecimento com mais probabilidades de sucesso.
O terceiro bloco, Pensamento crítico e redes, apresenta ao estudantado uma perspectiva que contém o conhecimento essencial sobre as funções dos médios e dos provedores de informação nas sociedades democráticas, de modo que favorece que as pessoas utentes se involucren nos canais e médios de informação de um modo significativo. Esta perspectiva, ademais de contribuir à defesa de uma sociedade informada e crítica, responde às mudanças demandado no rol docente, centrando o papel da educação em o/a estudante e no desenvolvimento da competência de aprender a aprender.
Esta matéria não se pode abordar de modo lineal nem teórico. A metodoloxía de projectos resulta a mais acaída para garantir o tratamento de todos os conteúdos previstos e a aquisição dos standard de aprendizagem que se propõem, pois requerem a identificação de uma necessidade informativa, o planeamento e a distribuição de tarefas entre os membros de um grupo, a realização de pequenas investigações e tarefas integradas de para a elaboração de um produto final que é preciso comunicar.
|
Identidade Digital (1º/2º curso da ESO) |
||||
|
Objectivos |
Conteúdos |
Critérios de avaliação |
Standard de aprendizagem |
Competências |
|
Bloco 1. A identidade do ser humano racional. Direitos e dignidade pessoal |
||||
|
• a • d • f |
• B1.1. A identidade pessoal, identidade social e diversidade humana. O processo na construção da identidade. |
• B1.1. Diferenciar entre os elementos da identidade e a relação existente entre eles. |
• ID1.1.1. Identifica as diferenças básicas que existem entre os conceitos identidade pessoal, identidade social e diversidade humana e põe exemplos da vida quotidiana. |
• CAA • CCEC |
|
• ID1.1.2. Acorda uma definição para os conceitos de identidade social e diversidade humana através do consenso com o grupo. |
• CCL • CAA |
|||
|
• B1.2. Reconhecer-se a sim mesmo como protagonista no processo de construção da identidade. |
• ID1.2.1. Reconhece e valora o poder que possui para construir a sua própria identidade e exemplifícao com a criação de uma bateria colaborativa de propostas através da sua recolhida num único documento. |
• CCL • CAA • CSC • CCEC |
||
|
• a • d • f |
• B1.2. O conceito de intimidai. Exposição pública da intimidai. |
• B1.3. Compreender com perspectiva histórica o conceito de intimidai, fazendo especial fincapé na evolução surgida no âmbito das interacções digitais, e argumentar a favor e contra de uma prática de exposição pessoal na rede. |
• ID1.3.1. Investiga o significado do conceito intimidai e a que teve ao longo do tempo e do espaço, expondo através de um breve informe as conclusões obtidas. |
• CD • CSC • CCEC |
|
• ID1.3.2. Extrapola diferentes práticas de exposição pessoal do seu contorno, como a publicação de imagens de menores sem o seu consentimento, a uma sociedade ficticia sem telas e inventa possíveis lugares de exposição pública destas imagens analisando a sua pertinência ética. |
• CD • CSC • CCEC |
|||
|
• a • f |
• B1.3. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A dignidade como ser moral e o valor da pessoa. A igualdade de direitos entre homens e mulheres. |
• B1.4. Identificar, no preâmbulo da DUDH, o a respeito da dignidade das pessoas e os seus atributos essenciais como o fundamento do qual derivam todos os direitos. |
• ID1.4.1. Identifica no preâmbulo da DUDH os elementos que constituem direitos inalienables. |
• CD • CSC • CCEC |
|
• B1.5. Apreciar o labor que realizam entidades de diferente índole que trabalham pela defesa dos direitos humanos, auxiliando as pessoas que por natureza os possuem, mas não têm oportunidade de exercê-los. |
• ID1.5.1. Investiga que entidades se ocupam da salvaguardar dos direitos humanos em todo mundo. |
• CD • CSC • CAA • CCEC |
||
|
• ID1.5.2. Identifica de modo colaborativo as linhas de trabalho de entidades que se ocupam da salvaguardar dos direitos humanos em todo mundo, e comunica-as através de uma posta em comum que se materializar em algum documento escrito. |
• CD • CSC • CAA • CCEC |
|||
|
• a • d • g |
• B1.4. A Constituição espanhola. • B1.5. Direito à honra. Direito à intimidai pessoal e familiar. Direito à imagem. • B1.6. A identidade digital em menores de idade. Menores de 14 anos. Dos 14 aos 18 anos. • B1.7. Liberdade de expressão e limites. Liberdade de informação e limites. • B1.8. Conflito ou colisão de direitos. |
• B1.6. Conhecer e valorar os fundamentos da Constituição espanhola de 1978, identificando os valores éticos de que parte e os conceitos preliminares que estabelece, e os direitos, os deveres e as consequências das suas actuações nas redes tanto para eles como para os seus titores legais. |
• ID1.6.1. Identifica e aprecia os valores éticos fundamentais da Constituição espanhola, e assinala a origem da sua legitimidade e a sua finalidade mediante a leitura comprensiva e comentada do seu preâmbulo. |
• CD • CSC • CCEC |
|
• ID1.6.2. Assinala e comenta a importância dos direitos à honra, à intimidai pessoal e familiar, à própria imagem e ao segredo de comunicações. |
• CD • CSC • CCEC |
|||
|
• ID1.6.3. Simula mediante jogos de rol as consequências de diferentes acções vinculadas aos direitos e deveres nas redes de pessoas menores de idade. |
• CD • CSC • CCEC |
|||
|
• B1.7. Buscar na rede casos reais de conflitos de direitos e de outros relacionados com o direito à honra. |
• ID1.7.1. Contrasta os anteriores direitos com o direito à liberdade de expressão de ideias e pensamentos e a comunicar e receber libremente informação veraz, identificando os seus limites, mediante a leitura e análise de casos reais. |
• CD • CSC • CCEC |
||
|
• ID1.7.2. Argumenta uma postura determinada num debate arredor de uma situação real de conflito de direitos. |
• CCL • CSS |
|||
|
• a • b • f • g |
• B1.9. Lei orgânica de protecção de dados. Direitos ARCO. |
• B1.8. Conhecer e definir os elementos essenciais dos direitos ARCO: direito de informação, acesso, rectificação, cancelamento e oposição. |
• ID1.8.1. Elabora e ilustra em grupo numa infografía algum dos aspectos referidos aos direitos ARCO. |
• CCL • CD • CSC |
|
• a • b • f • g |
• B1.10. Lei de propriedade intelectual e corrente de pensamento Cultura livre. |
• B1.9. Explicar os quatro direitos de exploração da propriedade intelectual: reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação através de casos práticos. |
• ID1.9.1. Identifica os catros elementos principais da propriedade intelectual e ilustra-os através de exemplos. |
• CD • CSC |
|
• ID1.9.2. Identifica as possibilidades e restrições de uso de alguma obra criativa seleccionada na rede, atendendo à sua licença de propriedade intelectual. |
• CD • CSC |
|||
|
• B1.10. Analisar e reconhecer as novas formas de partilhar conhecimento na rede e valorar a pertinência das licenças de Cultura livre. |
• ID1.10.1. Investiga sobre as novas formas de partilhar conhecimento na rede através de licenças de Cultura livre e apresenta conclusões em diferentes suportes. |
• CD • CSC |
||
|
• a • b • f • g |
• B1.11. Direito ao esquecimento. |
• B1.11. Compreender e explicar o significado do direito ao esquecimento e as possíveis consequências da sua ausência. |
• ID1.11.1. Define o direito ao esquecimento e identifica estratégias individuais e colectivas que contribuam a minimizar os danos da sua ausência registando numa lista. |
• CCL • CD • CSC • CCEC |
|
• a • b • f • g |
• B1.12. Fenda digital. Tipos de fenda digital: global, social (de acesso, de uso e de qualidade de uso) e democrática. |
• B1.12. Explicar e valorar a importância de reduzir a fenda digital no processo de construção colectiva de uma sociedade mais igualitaria. |
• ID1.12.1. Identifica o conceito de fenda digital e põe exemplos tirados da vida quotidiana. |
• CCL • CD • CSC |
|
• ID1.12.2. Busca as causas e argumenta de modo oral mediante uma exposição as consequências derivadas dos exemplos seleccionados. |
• CCL • CAA • CSC |
|||
|
• ID1.12.3. Elabora de modo colaborativo um decálogo com medidas que contribuam à redução da fenda digital. |
• CCL • CD • CAA • CSC |
|||
|
Bloco 2. A identidade digital |
||||
|
• e • d • f |
• B2.1. A identidade digital como construção social. A identidade híbrida. |
• B2.1. Reconhecer e assumir a relação directa que existe entre a identidade digital e a identidade analóxica e analisar criticamente diferentes acções quotidianas na rede que constroem a nossa identidade digital deixando um rasto permanente, comparando as acções na rede com inscrições na rede. |
• ID2.1.1. Explica o conceito de identidade como uma realidade dinâmica e cambiante que sujeita à permanência do rasto digital. |
• CD • CAA • CSC |
|
• ID2.1.2. Compara os conceitos identidade digital e analóxica e estabelece as relações que existem entre a própria identidade digital e a analóxica. |
• CD • CAA • CSC |
|||
|
• ID2.1.3. Identifica práticas digitais habituais que ilustram esta relação (projecção da imagem, exposição da vida real na vida digital...) e toma consciencializa sobre a trascendencia dos nossos actos na rede. |
• CD • CAA • CSC |
|||
|
• e • g |
• B2.2. A nossa actividade consciente na rede. • B2.3. Rasto digital. Os serviços gratuitos na rede. |
• B2.2. Apresentar e defender em público alguma acção ou interacção na rede, debatendo-a em grande grupo, e explicar a aparente gratuidade do seu uso. |
• ID2.2.1. Identifica o rasto digital de acções quotidianas de uso da rede através de exemplos reais ou ficticios. |
• CD • CSIEE |
|
• ID2.2.2. Investiga e apresenta o funcionamento de um produto de mercado derivado de serviços gratuitos aloxados na rede. |
• CD • CSIEE |
|||
|
• a • e • d • g |
• B2.4. A imagem que os demais têm da nossa identidade digital. • B2.5. A relação estabelecida com os diferentes membros da rede. |
• B2.3. Compreender a existência de diferenças entre o que somos e o que projectamos de nós na rede, com a finalidade de fomentar uma interacção responsável e a valoração crítica da identidade de terceiros. |
• ID2.3.1. Identifica os traços físicos, emocionais, sociais, intelectuais, espirituais... que projectamos na vida quotidiana e cotéxaos com aqueles que projectamos nas redes. |
• CCL • CD • CSC |
|
• B2.4. Assinalar e relacionar os objectivos e pertinência da sua participação pessoal em diferentes comunidades digitais. |
• ID2.4.1. Explica os interesses e afecções que manifestamos na rede através do vínculo com determinadas comunidades com que interactuamos mediante a elaboração de uma relação daquelas que fazemos parte. |
• CCL • CD • CSC |
||
|
• a • b • d • f • g |
• B2.6. Gestão da identidade digital. Revisão da identidade. • B2.7. Construção da reputação. Marca pessoal. Relação entre marca pessoal e identidade digital. |
• B2.5. Compreender a importância da identidade digital no seu processo de construção pessoal e a necessidade de gerí-la activamente. |
• ID2.5.1. Elabora em grupo uma infografía ilustrada com as recomendações mais importantes para a gestão da própria identidade digital. |
• CCL • CD • CSC • CSIEE • CCEC |
|
• ID2.5.2. Relaciona os conceitos de marca pessoal e identidade digital atendendo ao tipo de influência que a marca pessoal pode ter sobre a própria identidade pessoal. |
• CCL • CD • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• a • b • d • f • g |
• B2.8. Projectos pessoais. |
• B2.6. Planificar e apresentar um projecto de construção de identidade digital coherente e realista e valorar a possibilidade de gerar uma marca pessoal mantendo uma postura crítica sobre a pertinência de fazê-lo e a influência que esta pode gerar sobre a sua própria identidade. |
• ID2.6.1. Planifica, descreve e elabora um projecto de futuro de construção de identidade digital atendendo às fases de viabilidade (possibilidades reais de construir a imagem digital), planeamento (definição de estratégia geral, aplicações a utilizar, configuração de aplicações, estratégia de publicação e interacção, tarefas, etc.) execução do plano e valoração final. |
• CCL • CD • CSC • CSIEE • CCEC |
|
Bloco 3. Pensamento crítico e redes |
||||
|
• a • d • f • g |
• B3.1. A cultura de participação. |
• B3.1. Analisar e comentar, com atitude reflexiva e espírito crítico, qualquer tipo de informação. |
• ID3.1.1. Localiza e recupera informação relevante e veraz sobre algum interesse próprio e destaca as diferentes estratégias de busca utilizadas. |
• CL • CD • CAA |
|
• a • d • f • g |
• B3.2. Busca, uso e comunicação da informação de modo criativo, legal e ético. |
• B3.2. Contrastar a informação recolhida em diferentes fontes e analisar criticamente o seu conteúdo. |
• ID3.2.1. Interpreta e analisa a mesma informação em fontes diferentes. |
• CL • CD • CAA |
|
• a • d • f • g |
• B3.3. Plataformas de acolhida livre e pública de pedidos pela internet tanto próximas como globais. |
• B3.3. Participar em alguma experiência em rede partilhando informação e valorando explicitamente benefícios e prejuízos que lhe pode ocasionar essa interacção concreta na rede. |
• ID3.3.1. Selecciona um pedido de carácter cívico de uma plataforma pública ou um projecto de criação e elabora alguma proposta de contributo simples à sua difusão. |
• CL • CD • CAA |
|
• ID3.3.1. Exemplifica sobre os perigos que encerra o fenômeno da socialização global à margem dos valores éticos universais e dialoga na procura de soluções. |
• CL • CD • CAA |
|||
|
• ID3.3.2. Propõe actuações coherentes que ponham em contacto a sua comunidade global com o seu âmbito de participação local. |
• CL • CD • CAA |
|||
|
• a • d • f • g |
• B3.4. Projectos de criação e de microfinanciamento global e no contorno próximo. |
• B3.4. Buscar e identificar projectos de criação e/ou de microfinanciamento colectivo do contorno próximo. |
• ID3.4.1. Acredite e partilha conhecimento na rede sobre alguma habilidade, experiência, competência, conhecimento, qualidade própria e comunica-a através de diferentes suportes. |
• CL • CD • CAA |
|
• ID3.4.2. Reconhece as possibilidades que oferecem as plataformas para elaborar, partilhar e financiar projectos de modo colectivo. |
• CL • CD • CAA |
|||
|
• a • d • f • g |
• B3.5. Participação e respeito na rede. Empatía digital. |
• B3.5. Identificar e valorar criticamente atitudes e reacções para terceiros empatizando com as diferentes partes implicadas. |
• ID3.5.1. Justifica o uso das redes sociais fazendo fincapé nas oportunidades e vantagens que oferecem sem esquecer os ricos que supõe o seu uso. |
• CL • CD • CAA |
|
• a • d • f • g |
• B.3.6. Bem-estar e gestão dos tempos de consumo na rede. |
• B3.6. Computar e analisar o tempo de conexão à rede e analisar a sua repercussão no bem-estar. |
• ID3.6.1. Reflecte sobre os momentos em que a tecnologia não deve estar presente a acções da vida quotidiana e expõe as conclusões através de micronarrativas (memes, gifs, vines...). |
• CD • CSC • CCEC |
|
• e • d |
• B3.7. Medidas e hábitos de segurança na navegação. Configuração adequada da segurança e privacidade. • B3.8. Ameaças à privacidade na rede. Configuração da privacidade nas redes sociais. Alterações derivadas da sincronización entre plataformas. |
• B3.7. Adoptar as condutas de segurança activa e pasiva que possibilitem a protecção dos dados pessoais e o intercâmbio seguro de informação nas suas interacções na rede. |
• ID3.7.1. Conhece os riscos de segurança na rede e emprega hábitos de protecção adequados. |
• CD • CSC |
|
• ID3.7.2. É consciente dos direitos de terceiros no momento de partilhar dados na rede. |
• CD • CSC |
|||
|
• ID3.7.3. Põe de manifesto a necessidade de proteger os dados mediante políticas de privacidade e contrasinais seguros. |
• CD • CSC |
|||
|
• a • e • d |
• B3.9. Alterações da privacidade por parte de terceiros. |
• B3.8. Aplicar técnicas de protecção da privacidade. |
• ID3.8.1. Aplica técnicas de protecção da privacidade em práticas reais ou ficticias na rede. |
• CD • CSC |
|
• a • e • d |
• B3.10. Ameaças à reputação na rede. Informações descontextualizadas. Publicações falsas, inxurias ou calunias. Publicações que exceden a liberdade de informação. Suplantación da identidade na internet. |
• B3.9. Conhecer os delitos informáticos mais habituais para desenvolver estratégias de protecção em relação com aqueles que possam ter um maior impacto na sua pessoa. |
• ID3.9.1. Descreve em que consistem os delitos informáticos mais habituais e classifica-os atendendo à sua gravidade. |
• CD • CSC |
|
• ID3.9.2. Conhece, discute e aplica práticas de protecção ante os diferentes riscos na rede: ameaças à sua reputação, informações falsas, publicações que exceden a liberdade de informação ou suplantacións de identidade. |
• CD • CSC |
|||
|
• a • e • d |
• B3.11. Convivência na rede. Exemplos de boas práticas. |
• B3.10. Reconhecer o outro nas nossas publicações na rede e o impacto destas na sua reputação e nas suas emoções. |
• ID3.10.1. Expõe a repercussão das nossas interacções na rede sobre os demais através de faladoiros dialóxicos e apresenta conclusões em diferentes suportes. |
• CCL • CSC |
|
• a • d • g |
• B3.12. Reacção ante a violação de direitos. Denúncia interna aos provedores de serviços. Denúncia ante a AEPD. Denúncia judicial. |
• B3.11. Conhecer e pôr em prática o procedimento de solicitude de retirada de informação de carácter pessoal dos diferentes serviços da rede, incluídas as indexacións dos principais buscadores. |
• ID3.11.1. Visita e familiariza com a informação ao cidadão que oferece a web da AEPD. |
• CCL • CD • CAA |
|
• ID3.11.2. Elabora a documentação necessária para solicitar a retirada de uma informação visual ou audiovisual de algum serviço da internet. |
• CCL • CD • CAA |
|||
Consumo Responsável
Introdução
O artigo 51.2 da Constituição espanhola estabelece que os poderes públicos promoverão a informação e a educação das pessoas consumidoras e utentes. Neste sentidoo, a Lei 2/2012, de 28 de março, galega de protecção geral das pessoas consumidoras e utentes, estabelece como um dos direitos básicos das pessoas consumidoras a formação e a educação em matéria de consumo. Assinala na exposição de motivos que a actuação administrativa deve superar o conceito tradicional de formação e educação, cingida, tradicionalmente e em exclusiva, ao conhecimento pelas pessoas consumidoras dos seus direitos como tais, para perceber esta formação e educação em mais um contexto global, onde este conhecimento tenha que complementar-se simbioticamente com outros conhecimentos dos cales não possa prescindir à hora de adquirir bens e serviços, como a sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural.
Para atingir o objectivo anteriormente assinalado, o artigo 49 da Lei 2/2012 habilita a Administração competente em matéria de consumo para a elaboração de planos e programas de actuação conducentes ao impulso do tratamento da educação para o consumo nos diferentes níveis e etapas do ensino regrado. Além disso, o artigo 50 desta lei assinala que a Administração competente em matéria de consumo, conjuntamente com a competente em educação, estabelecerá um plano de formação específico orientado a favorecer o tratamento da educação para o consumo nos currículos das diferentes etapas e níveis do ensino regrado, na forma em que melhor se ajuste à finalidade pedagógica de cada um deles.
A LOMCE faz referência à concepção da educação como chave para a formação de pessoas activas; com autoconfianza, curiosas, emprendedoras e inovadoras; desexosas de participar na sociedade a que pertencem, de criar valor individual e colectivo; capazes de assumir como próprio o valor do equilíbrio entre o esforço e a recompensa. A educação e o sistema educativo devem possibilitar tanto a aprendizagem de coisas diferentes como o ensino de modo diferente, para poder satisfazer um estudantado que foi mudando com a sociedade.
Com a introdução no currículo do ensino obrigatório de uma matéria de Consumo Responsável não só se dá cumprimento ao mandato legislativo anteriormente assinalado senão que também se pretende formar uma cidadania mais crítica, autónoma e consciente dos seus direitos e responsabilidades, disposta a actuar numa sociedade globalizada e cambiante. A incorporação da educação para o consumo responsável no âmbito do ensino regrado permitirá formar as futuras gerações de pessoas consumidoras, de modo que sejam conscientes não só dos seus direitos senão também dos seus deveres, assim como da importância de estarem em todo momento devidamente informadas sobre as características dos bens, produtos e serviços postos à sua disposição no comprado, e das vias e dos mecanismos para fazer efectivos esses direitos. Deste modo, poderão desenvolver na sociedade de um modo responsável, solidário e com sentido crítico, dando preferência ao «ser» face ao «possuir».
Todas as pessoas têm que tomar a diário decisões de consumo que cada vez se vêem mais condicionar pelo emprego das novas tecnologias, de técnicas de publicidade ilícita ou enganosa ou pela própria configuração da actual sociedade, baseada na economia de mercado. Assim pois, o objectivo último desta matéria é formar pessoas consumidoras responsáveis, informadas, conscientes, críticas e solidárias, como uma forma de prevenir o consumismo excessivo e os seus efeitos negativos para a sociedade e o ambiente.
O currículo desta matéria está organizado em quatro grandes blocos. O primeiro, O consumo responsável e tipos de consumo, pretende oferecer ao estudantado um primeiro achegamento aos conceitos básicos de consumo e hábitos de consumo responsável, assim como uma aproximação inicial aos direitos das pessoas consumidoras. Analisa-se a relação entre o consumo e a sustentabilidade, com a identificação dos diferentes tipos de comércio (globalizado, justo e de proximidade) fazendo fincapé no comércio justo e no comércio de proximidade como melhores opções para um consumo responsável. Por outro lado, trabalha-se o consumo na rede desde os hábitos e usos mais conhecidos e empregados pelo estudantado, como é a perspectiva de «prosumidores» (produto + consumidor) nas redes sociais, prestando-lhe uma especial atenção ao comércio electrónico como outra forma de consumo com uma rápida evolução e em continuo auge, com a finalidade de que o estudantado conheça para o futuro as diferentes maneiras de consumir produtos e serviços através da rede e as vantagens e os riscos que apresenta esta modalidade de consumo. Remata este bloco com a referência às consequências do consumo excessivo, o esgotamento dos recursos e os riscos que apresenta para as pessoas consumidoras.
O segundo bloco, Identificação dos produtos através da sua etiquetaxe, pretende aproximar ao estudantado as noções básicas sobre a etiquetaxe dos diferentes produtos postos no comprado à disposição das pessoas consumidoras e a importância de conhecê-la bem. Pode dizer-se que a etiquetaxe dos alimentos é algo assim como o seu cartão de apresentação, e neste bloco se lhe dá especial importância à etiquetaxe dos produtos alimenticios, devido à extensa normativa que o regula e à sua importância devido à valiosa informação que proporciona sobre os seus ingredientes, se contêm ou não aditivos e outras substancias acrescentadas, as suas propriedades, o seu valor nutricional, a sua data de caducidade, etc. Ademais, é preciso completar este bloco com a etiquetaxe de outros produtos de compra habitual, como são os electrodomésticos e os produtos electrónicos, a roupa e o calçado, os brinquedos e os videoxogos, já que através da etiquetaxe podemos conhecer a suas principais características, componentes, lugar de fabricação e, em geral, toda a informação necessária para saber que se trata de um produto seguro e apto para o consumo. Conhecer a importância da etiquetaxe converterá o estudantado em pessoas consumidoras informadas, capazes de decidir de modo consciente sobre os alimentos e os produtos que estão a consumir cada dia.
O terceiro bloco, Publicidade dos bens e serviços de consumo, centra-se num dos principais elementos que influem nas decisões de consumo: a publicidade. Aqui trata-se de que o estudantado seja capaz de compreender e identificar as estratégias que se empregam na publicidade, tanto nos médios de comunicação e nas TIC coma no ponto de venda. Além disso, resulta necessário efectuar uma visão crítica da publicidade e conhecer os possíveis supostos de publicidade ilícita que se podem denunciar ante Consumo, como publicidade enganosa e/ou discriminatoria.
O quarto bloco, O exercício dos direitos das pessoas consumidoras, centra na apresentação dos direitos das pessoas consumidoras e nas estratégias para fazê-los valer através dos serviços com que as pessoas consumidoras contam para a sua defesa, com especial atenção às instituições e às políticas públicas que amparam as pessoas consumidoras.
Esta matéria, estruturada nos quatro blocos assinalados, tem por objecto que o estudantado desenvolva as competências que lhe permitam exercer os seus direitos como pessoas consumidoras. Facilita o desenvolvimento de várias competências chave que permitem adquirir hábitos, destrezas, comportamentos e conhecimentos para o exercício crítico e autónomo do consumo, pelo que resulta de especial importância para a aplicação na vida diária do estudantado. Nesta linha, é preciso destacar as competências sociais e cívico, as competências de aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Em correlação com as competências chave e a própria natureza desta matéria, a metodoloxía empregada deve basear-se na própria prática, apoiando-nos em casos que se encontrem na vida diária. Recomenda-se o emprego de diferentes recursos, como os digitais e os meios de comunicação, assim como o recurso à própria experiência pessoal do estudantado. Nesta linha, as técnicas metodolóxicas que favorecerão o cumprimento dos objectivos seriam, por exemplo, o trabalho em equipa, os jogos de rol, a análise de casos reais e a manipulação de produtos de consumo desde uma perspectiva pedagógica.
Como encerramento, é preciso não esquecer a necessidade de que os instrumentos de avaliação sejam variados para poder atender as diversas destrezas e competências que trabalha a matéria e para valorar a evolução do estudantado. Como ferramenta, serão muito adequadas as rubricas ou escalas de valoração para recolher os dados fruto da observação sistemática do seu trabalho.
|
Consumo Responsável 1º/2º ESO |
||||
|
Objectivos |
Conteúdos |
Critérios de avaliação |
Standard de aprendizagem |
Competências chave |
|
Bloco 1. Consumo responsável e tipos de consumo |
||||
|
• a • e • g • m |
• B.1.1. Consumo responsável. • B.1.2. A pessoa consumidora. • B.1.3. Direitos das pessoas consumidoras. |
• B.1.1. Conhecer conceitos básicos de consumo e os direitos que têm como pessoas consumidoras. |
• CRB 1.1.1. Identifica-se como pessoa consumidora e distingue actos de consumo na sua vida quotidiana. |
• CAA • CSC |
|
• CRB 1.1.2. Diferencia hábitos de consumo responsável pelos que não o som. |
• CAA • CSC |
|||
|
• CRB 1.1.3. Reconhece os direitos das pessoas consumidoras. |
• CAA • CSC |
|||
|
• a • b • e • g • l • m |
• B.1.4. Consumo e sustentabilidade: comércio globalizado e comércio de proximidade. • B.1.5. Princípios de comércio justo e cooperativas de consumo. |
• B.1.2. Identificar e diferenciar os diferentes tipos de comércio ao nosso alcance: comércio local, centros comerciais, franquías internacionais...). • B.1.3. Reconhecer as diferentes iniciativas que favorecem um consumo responsável e os envolvimentos das condições laborais nos processos de produção. |
• CRB 1.1.4. Diferencia os tipos de consumo, assim como as suas vantagens e desvantaxes para adoptar uma tomada de decisões crítica a respeito dos seus hábitos de consumo. |
• CAA • CSC • CSIEE |
|
• CRB 1.1.5. Identifica os princípios do comércio justo e as cooperativas de consumo e ilustra-o com exemplos. |
• CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
• a • e • g • m |
• B.1.6. Consumo na rede: conceitos básicos. • B.1.7. Redes sociais: os novos consumidores (prosumidores). • B.1.8. O comércio electrónico: conselhos de uso. • B.1.9. Problemas habituais de consumo na rede. |
• B.1.4. Identificar as principais características do consumo na rede, as possibilidades que oferece e os riscos que apresenta: descargas não desejadas, apostas em linha, compras fraudulentas, exposição de dados pessoais... |
• CRB 1.1.6. Reconhece as possibilidades do consumo na rede através de casos práticos. |
• CAA • CSIEE |
|
• CRB 1.1.7. Compreende os riscos que implica um uso inadequado do comércio electrónico e outros problemas do consumo na rede. |
• CD • CAA • CSIEE |
|||
|
• CRB 1.1.8. Identifica modelos seguros de uso na rede e condutas inseguras sobre casos práticos. |
• CMCCT • CDCAA • CSC • CSIEE |
|||
|
• a • b • g • m |
• B.1.10. Consumo de subministrações: custos domésticos e ambientais. |
• B.1.5. Compreender as consequências de um consumo excessivo de subministrações domésticas (água, gás, combustíveis...) e o impacto que tem sobre a economia doméstica e sobre o ambiente. |
• CRB 1.1.8. Identifica algumas medidas que se podem tomar para a protecção do ambiente em relação com o consumo doméstico. |
• CAA • CSC • CSIEE |
|
• CBR 1.1.9. Incorpora uma mudança nos próprios hábitos que gere uma melhora no consumo dos recursos. |
• CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
Bloco 2. Identificação dos produtos através da sua etiquetaxe |
||||
|
• e • g • m |
• B.2.1. Informação geral básica dos produtos de consumo: a etiquetaxe. • B.2.2. Publicidade face a informação. |
• B.2.1. Conhecer a importância e o significado da etiquetaxe para a pessoa consumidora. |
• CRB.2.1.1. Identifica os diferentes tipos de dados que oferece a etiquetaxe e diferencia entre o que é informativo e o que é publicitário. |
• CAA • CSC |
|
• CRB.2.1.2. Identifica a informação que deve aparecer de modo obrigatório em qualquer produto de venda ao público. |
• CAA • CSC |
|||
|
• CRB.2.1.3. Debate de modo argumentado sobre a importância da etiquetaxe como recurso fundamental para a eleição consciente e informada de um produto. |
• CAA • CSC |
|||
|
• e • g • m |
• B.2.2. Etiquetaxe de alimentação e nutricional. • B.2.3. Etiquetaxe têxtil e do calçado. • B.2.4. Etiquetaxe electrónica e tecnológica. • B.2.5. Etiquetaxe de brinquedos e videoxogos. |
• B.2.2. Identificar a informação que deve aparecer nos envases dos diferentes tipos de produtos a que temos acesso no comprado: ingredientes, nutrientes, componentes acrescentados, nível de processado, composição, origem, fabricação, instruções, nível de risco, recomendação de idade, tipo de conteúdo, tipo de envase... |
• CRB 2.2.1. Reconhece e compara a informação que figura na etiquetaxe de produtos de diferente tipo em exemplos concretos. |
• CAA • CSC • CMCCT |
|
• CRB 2.2.2. Identifica a informação que deve aparecer na etiquetaxe de produtos alimenticios através de casos práticos. |
• CAA • CSC • CMCCT |
|||
|
• e • g • m |
• B.2.6. Etiquetaxe facultativo. • B.2.7. Sê-los de qualidade. |
• B.2.3. Reconhecer a etiquetaxe que não se considera obrigatória e valorar o seu significado. |
• CRB 2.3.1. Diferencia o significado e os símbolos que se empregam na etiquetaxe facultativo. |
• CAA • CSC |
|
• CRB 2.3.2. Identifica sê-los de qualidade na etiquetaxe de produtos através de exemplos reais e valora o seu valor acrescentado. |
• CAA • CSC |
|||
|
Bloco 3. Publicidade dos bens e serviços de consumo |
||||
|
• a • b • c • e • g • m • n |
• B.3.1. Linguagem publicitária nos médios de comunicação e nas TIC. |
• B.3.1. Descobrir os elementos que compõem a linguagem publicitária: linguísticos (mensagens, slogans), gráficos (cor, logos), musicais, icónicos (pessoas, famosos, destinatarios)... • B.3.2. Identificar e valorar o impacto das mensagens que vemos nos anúncios. |
• CRB.3.1.1. Identifica os elementos e as técnicas (horários de exposição) que se empregam nos diferentes formatos publicitários para vender um produto. |
• CCL • CAA • CSIEE |
|
• B.3.2. Identificar e valorar o impacto das mensagens que vemos nos anúncios. |
• CRB.3.1. 2. Analisa com uma atitude crítica o visionado de diferentes anúncios. |
• CCL • CAA • CSIEE |
||
|
• a • b • e • g • m • n |
• B.3.2. Publicidade no ponto de venda: médios, estratégias e técnicas. |
• B.3.2. Distinguir as diferentes técnicas empregadas no ponto de venda (localização, iluminação, colocação, redondeo, preço, promoção, ritmo musical...) e conhecer a sua influência na tomada de decisão das pessoas consumidoras. |
• CRB 3.1.3. Reconhece os diferentes elementos e técnicas publicitárias dentro dos pontos de venda. |
• CCL • CAA • CSIEE |
|
• CRB.3.1.4. Dialoga de modo argumentado sobre a influência das estratégias de venda sobre a toma de decisões das pessoas consumidoras. |
• CCL • CAA |
|||
|
• a • b • c • e • g • m • n |
• B.3.3. Identificação da publicidade ilícita. |
• B.3.3. Identificar os possíveis casos de publicidade ilícita. |
• CRB 3.1.5. Distingue anúncios de publicidade ilícita. |
• CCL • CSIEE |
|
Bloco 4. O exercício dos direitos das pessoas consumidoras |
||||
|
• a • b • e • g • h • m |
• B.4.1. Leis que amparam e protegem os direitos das pessoas consumidoras. • B.4.2. Serviços de defesa dos direitos das pessoas consumidoras. • B 4.3. Actuação ante um problema de consumo. |
• B.4.1. Descobrir as normas que regem os diferentes aspectos dos direitos das pessoas consumidoras. • B.4.2. Identificar as vias e as instituições a que se pode acudir para fazer valer os direitos das pessoas consumidoras. • B.4.3. Conhecer como se realiza uma reclamação de consumo. |
• CRB.4.1.1. Identifica os direitos que nos protegem como pessoas consumidoras. |
• CCL • CSC |
|
• CRB 4.1.2. Diferencia as instituições a que deve acudir no caso de precisá-las e identifica os motivos pelos quais pode fazer uso. |
• CCL • CSC |
|||
|
• CRB 4.1.3. Resolve problemas com uma compra e identifica as vias para poder solucioná-los através de casos práticos. |
• CAA • CSIEE |
|||
|
• CRB.4.1.4. Realiza uma reclamação ficticia ou real ante uma entidade. |
• CCL • CSIEE |
|||
Valores Democráticos Europeus
Introdução
A escola como comunidade democrática e espaço de participação cívico é um lugar privilegiado para trabalhar sobre aqueles valores democráticos que nos definem e que, sem serem exclusivamente europeus, nos identificam como partícipes de um projecto social comum mas diverso, baseado na confiança, no compromisso e na vontade de melhora contínua. A resposta a que escola queremos? abre uma nova pergunta: que modelo de sociedade queremos? A aprendizagem dos valores necessários para a construção da sociedade do futuro não é possível à margem da praxe e da actividade cívico do estudantado, do exercício de uma cidadania activa e da participação dentro da própria comunidade educativa desde um enfoque integral com coerência entre o que se diz e o que se faz.
Este exercício da cidadania precisa de espaços seguros nos cales o diálogo e a diversidade de propostas sejam possíveis e se vejam reforçados pela busca e análise de informação relevante e veraz, fomentando o pensamento crítico e actuando em consequência. Tanto a gestão da informação como, e muito particularmente, o uso das contornas digitais, em qualidade de âmbitos de participação, requerem de uma aprendizagem que permita distinguir a veracidade da informação, a credibilidade das fontes e a emissão de mensagens pessoais e consistentes com valores fundamentais e universais. Nesse palco, a promoção do diálogo intercultural, em colaboração com toda a comunidade educativa e com os agentes sociais relevantes do contorno, supõe um benefício mútuo entre escola e sociedade, entre indivíduos e sociedade, que repercutirá na convivência e no progresso das sociedades em geral.
Por tudo isto, o trabalho em valores democráticos europeus não pode limitar-se ao declarativo e conceptual senão que, mediante metodoloxías e enfoques activos (aprendizagem baseada em projectos, aprendizagem-serviço, titoría entre iguais, aprendizagem colaborativa, mentorías...), deverá pôr o conhecimento em acção para produzir hábitos cidadãos que se transformem em virtudes públicas e permitam a construção de uma «amizade cívico» e a criação de estratégias de resolução de conflitos.
Deste modo, propõem-se um bloco 1, Os valores europeus, centrado na conceptualización dos valores europeus, como aqueles que surgem da tradição ilustrada que produziu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que estão no centro da construção europeia. Através deste bloco de conteúdos procurar-se-á a interiorización dos princípios de igualdade, democracia, diversidade, para procurar fomentar o respeito e a inclusão... tentando conseguir a confluencia entre o pensamento ético e a actividade prática dos indivíduos, é dizer, conseguir que a linguagem do desejo (o que me interessa ou quero fazer) coincida ao mesmo tempo com os princípios éticos universais (o que devo fazer).
O bloco 2, De pessoas individuais a seres sociais, aprofunda na viagem de indivíduo a cidadão, em canto ser social e político. Aprofunda no conhecimento da xénese histórica dos valores, das lutas sociais pela inclusão intercultural, opondo aos processos históricos de anulação dos traços culturais e sociais diferentes. Além disso, trabalha-se o conflito intercultural desde a empatía e o a respeito do pluralismo, como oportunidade de crescimento tanto individual como da sociedade no seu conjunto para dar resposta a situações e reptos novos.
O bloco 3, A inclusão na diversidade, por sua parte, tem uma perspectiva mais integradora e globalizada dos contidos trabalhados até o momento, para a o desenvolvimento de competências sociais e cívico que facilitem a consecução de projectos vitais e sociais relevantes, inclusivos e justos.
|
Valores Democráticos Europeus (1º/2º curso da ESO) |
||||
|
Objectivos |
Conteúdos |
Critérios de avaliação |
Standard de aprendizagem |
Competências |
|
Bloco 1. Os valores europeus |
||||
|
• a • e |
• B1.1. Os valores da União: a respeito da dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de direito e respeito pelos direitos humanos. Direitos das minorias. • B1.2. As sociedades plurais, não discriminatorias, tolerantes, justas e solidárias. |
• B1.1. Compreende a importância dos valores dos estados democráticos na construção de sociedades inclusivas. |
• VDE1.1.1. Define os conceitos básicos dos estados democráticos e põe exemplos tirados da vida quotidiana. |
• CCL • CSC |
|
• VDE1.1.2. Reconhece os valores próprios da União Europeia e relaciona com os direitos fundamentas dos indivíduos. |
• CCL • CSC |
|||
|
• VDE1.1.3. Identifica contextos sociopolíticos e culturais respeitosos com o pluralismo e a diversidade através de textos de actualidade. |
• CCL • CSC |
|||
|
• VDE1.1.4. Valora a riqueza natural das sociedades modernas. |
• CCL • CSC |
|||
|
• a • c • g • h |
• B1.3. A igualdade entre homens e mulheres e a igualdade afectivo-sexual. • B1.4. O valor da diversidade social e cultural. |
• B1.2. Valora com perspectiva de género a diversidade e a igualdade em todas as suas manifestações como elemento chave e enriquecedor das sociedades inclusivas. |
• VDE1.2.1. Justifica a igualdade entre homens e mulheres como um valor necessário das sociedades plurais. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|
• VDE1.2.2. Reconhece situações de discriminação por razão de género em contextos quotidianos. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE1.2.3. Conhece e identifica diferentes representações culturais associadas a comportamentos da vida quotidiana como celebrações, alimentação, ritos sociais, etc. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE1.2.4. Aprecia e defende mediante exposições orais a riqueza das manifestações culturais na pluralidade da sociedade. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• a • g • o |
• B1.5. Os valores na construção da identidade cultural, o sentimento de pertença, a visualización do ideal comum, o compromisso e a coerência. • B1.6. Conceito de cidadania.Cidadania europeia. • B1.7. O conceito de amizade cívico. |
• B1.3. Constrói o sentimento de pertença a uma sociedade através da interacção respeitosa com o resto da cidadania. |
• VDE1.3.1. Define o conceito de identidade cultural e aplica-o sobre situações da vida quotidiana. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|
• VDE1.3.2. Razoa com as suas próprias palavras que significa pertencer a uma sociedade. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE1.3.3. Analisa que envolvimentos pessoais supõe o sentimento de pertença. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE1.3.4. Faz uma proposta de ideais comuns das pessoas que convivem no seu centro educativo. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE1.3.5. Estabelece compromissos coherentes de actuação baseados nesta proposta de ideais comuns, reconhecendo a necessidade de apoio e defesa mútuas. |
• CCL • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
|
• a • d |
• B1.8. A actualização contínua dos valores: as realidades cambiantes e os novos reptos. A abordagem do conflito como oportunidade de crescimento e aprendizagem. • B1.9. Elementos e metodoloxías na resolução de conflitos. |
• B1.4. Participa na resolução pacífica de conflitos através da realização de propostas contextualizadas. |
• VDE1.4.1. Identifica fenômenos de conflito no mundo actual através de casos reais e analisa as suas causas. |
• CCL • CD • CAA • CSC • CCEC |
|
• VDE1.4.2. Elabora propostas de resolução de conflitos atendendo aos problemas identificados. |
• CCL • CD • CAA • CSC • CCEC |
|||
|
• VDE1.4.3. Justifica como o tratamento e a resolução pacífica dos conflitos contribui a redefinir o sistema de valores predefinido, integrando novas visões. |
• CCL • CD • CAA • CSC • CCEC |
|||
|
Bloco 2. De pessoas individuais a seres sociais |
||||
|
• a • c |
• B2.1. A abertura para as crenças, sistema de valores, visões do mundo, práticas e bagagens culturais dos outros. • B2.2. O respeito como valor de referência. • B2.3. Dignidade, respeito e tolerância. • B2.4. Justiça e solidariedade. |
• B2.1. Participar a nível cognitivo e emocional em situações de contacto intercultural real ou simulado, desde uma perspectiva construtiva. |
• VDE2.1.1. Dramatiza situações em que exerce diversos sistemas de valores, crenças, etc. com o fim de empatizar com o outro. |
• CCL • CSC • CSIEE |
|
• VDE21.2. Aplica a comunicação não violenta na defesa de manifestações culturais e sociais diferentes das próprias. |
• CCL • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE2.1.3. Relaciona os conceitos de dignidade e respeito e aplica-os coerentemente. |
• CCL • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE2.1.4. Distingue entre o a respeito da pessoas e a tolerância para as ideias. |
• CCL • CSC • CSIEE |
|||
|
• B2.4. Formas de violência estrutural e individual: a violência de género, a ciberviolencia, os radicalismos e o acosso na escola e nos contornos laborais. Auxílio necessário às vítimas. |
• B2.2. Reconhecer situações de violência e maltrato em diferentes contextos, favorecendo a busca de soluções para auxiliar as vítimas. |
• VDE2.2.1. Põe em prática processos de comunicação que empaticen com as pessoas que sofrem algum tipo de violência. |
• CCL • CSC |
|
|
• B2.5. Marcos legais de acção na segurança e protecção das vítimas. |
• B2.3. Reflectir sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade individual e social. |
• VDE2.3.1. Debate sobre a fronteira que existe entre a protecção do Estado e os direitos individuais. |
• CCL • CSC |
|
|
• a • e • g |
• B2.6. A cidadania activa e responsável. Acção e participação como elementos necessários para a democracia e o controlo governamental. • B2.7. A responsabilidade partilhada da cidadania. • B2.8. A eficácia na resolução de conflitos e na construção social. |
• B2.4. Conhece e razoa sobre diferentes lutas pelos direitos fundamentais, percebendo o seu valor e analisando criticamente as suas circunstâncias e as conquistas que se conseguiram com elas. |
• VDE2.4.1. Identifica exemplos e boas práticas na participação social ou política de diferentes colectivos. |
• CCL • CD • CSC • CSIEE |
|
• VDE2.4.2. Analisa diferentes situações de luta pela defesa dos direitos de diferentes colectivos ao longo da história. |
• CCL • CD • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE2.4.3. Conhece algumas organizações de participação cidadã para diferentes objectivos e sabe como contactar com elas. |
• CCL • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE2.4.4. Identifica um problema real da sua comunidade sobre o que é quem de actuar e planifica uma acção de participação social para oferecer uma possível solução ou proposta de melhora. |
• CCL • CSC • CSIEE |
|||
|
• a • c • g |
• B2.9. A pluralidade de esquemas de valores morais e a sua importância na gestão de modelos sociais inclusivos, abertos e flexíveis. • B2.10. A busca de modelos comuns e universais éticos. • B2.11. Responsabilidade versus culpa. • B2.12. A resolução pacífica e construtiva de conflitos. A mediação. As práticas restaurativas face à puramente punitivas. |
• B2.5. Reflecte sobre o seu papel na construção e melhora da sociedade, assim como na resolução de conflitos interculturais. |
• VDE2.5.1. Explica o conceito de responsabilidade como elemento que constrói a tomada de decisões. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|
• VDE2.5.2. É quem de evidenciar os sistemas de valores que subxacen em posturas enfrontadas num conflito. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE2.5.3. Debate sobre as soluções possíveis que se possam dar num conflito. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE2.5.4. Achega soluções a situações reais de conflito baseadas no a respeito da diversidade e à melhora da sociedade através do diálogo, a mediação e as práticas restaurativas. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
Bloco 3. A inclusão na diversidade |
||||
|
• a • l • n |
• B3.1. Emigração e imigração: a diversidade face à uniformidade. • B3.2. A valoração dos diferentes traços culturais, sociais e religiosos dos colectivos migrantes. As achegas científico-técnicas de diferentes culturas. A celebração da diversidade. As achegas das diferentes culturas e religiões à solução dos conflitos. |
• B3.1. Conhece e valora as achegas com que contribui a diversidade humana à construção das sociedades. |
• VDE3.1.1. Identifica movimentos humanos de emissão ou recepção de povoações próprios e contextualizados em diferentes momentos históricos. |
• CCL • CMCCT • CSIEE • CCEC |
|
• VDE3.1.2. Relaciona com o movimento de fronteiras e com a diversidade linguística, com a herança das diferentes achegas técnicas e culturais. |
• CCL • CMCCT • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE3.1.3. Põe exemplos concretos de achegas produzidas por diferentes culturas no mundo actual. |
• CCL • CMCCT • CSIEE • CCEC |
|||
|
• VDE3.1.4. Analisa e busca pontos de encontro entre diferentes religiões que sejam compatíveis com os direitos humanos e os valores europeus. |
• CCL • CMCCT • CSIEE • CCEC |
|||
|
• a • d |
• B3.3. A luta contra os estereótipos culturais, religiosos ou de género e o abandono dos modelos homoxeneizadores e redutores da diversidade. |
• B3.2. Explica a importância da luta contra os discursos totalitarios e alienantes. |
• VDE3.2.1. Justifica a idoneidade dos discursos que valoram a presença da imigração. |
• CCL • CSC |
|
• VDE3.2.2. Analisa e identifica os discursos excluíntes e radicais que surgem por volta das manifestações culturais e religiosas e determina as causas que levam à adopção destes discursos. |
• CCL • CSC |
|||
|
• a • d |
• B3.4. A cultura, a escola e o desporto como espaços de inclusão. • B3.5. O ciberespazo como contorno diverso e inclusivo. O respeito no ciberespazo. • B3.6. A construção de relatos e narrativas comuns: desde o que nos une e de costas ao que nos separa. A cooperação como modelo de melhora social. |
• B3.3. Promove estratégias de inclusão em diferentes âmbitos. |
• VDE3.3.1. Identifica recursos e estratégias para o conhecimento do outro e para a sua inclusão social através de exemplos extraídos da vida quotidiana. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|
• VDE3.3.2. Elabora propostas de práticas inclusivas desde diferentes âmbitos (actividades culturais, escola, desporto, ciberespazo...) que permitam canalizar os interesses comuns. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
• VDE3.3.3. Propõe acções interculturais através do trabalho cooperativo na sua comunidade de referência que promovem os valores democráticos. |
• CCL • CAA • CSC • CSIEE |
|||
|
• a • b • c • d • g • m • ñ |
• B3.7. O conhecimento e a compreensão crítica da própria individualidade. Quem somos e qual é o lugar que queremos ocupar no mundo. • B3.8. O conhecimento e a posta em valor de diferentes idiomas e dos códigos de comunicação. Que queremos comunicar. • B3.9. O conhecimento e a compreensão crítica do mundo: a política, a justiça, os direitos humanos, as culturas, as religiões, a história e os meios de comunicação. • B3.10. O conhecimento e a compreensão crítica da economia, do ambiente, da produção e da tecnologia. A defesa da sustentabilidade. |
• B3.4. Realiza projectos de participação social que ponham o foco na inclusão através do respeito pelos valores democráticos e na construção de uma sociedade justa e plural. |
• VDE3.4.1. Planifica e coopera na execução de um projecto de aprendizagem-serviço em que se ponha de manifesto para que sociedade quer avançar, qual é o seu próprio papel nesse projecto, como transmitir à comunidade para produzir uma melhora social sustentável. |
• CCL • CD • CAA • CSC • CSIEE • CCEC |
|
• VDE3.4.2. Avalia o projecto e propõe vias de melhora e transferibilidade. |
• CCL • CD • CAA • CSC • CSIEE • CCEC |
|||
Mobilidade Escolar Sustentável e Segura
Introdução
A mobilidade é um acto associado à natureza humana que acontece diariamente nos deslocamentos com diferentes motivos (estudo, trabalho, lazer, desporto, jogo, compras…), em interacção com os elementos e as pessoas do contorno. A construção do espaço público é um factor condicionante da nossa mobilidade, que no caso da mobilidade infantil afecta gravemente não só através da sinistralidade viária senão também através do atraso na aquisição de habilidades relacionadas com a autonomia e com o conhecimento do meio físico e humano em que vive o estudantado. A configuração do espaço público (gerida baixo os princípios de convivência, habitabilidade, sustentabilidade e acessibilidade) relaciona-se também com os condicionante da saúde, que actuam como factor de saúde e bem-estar, sobretudo nos trechos de idade limite (os mais baixos e os mais altos). Por tudo isto, é preciso abordar a matéria partindo da análise da configuração do espaço público para analisar os usos que fazemos dele, as funções que lhe outorgamos e os colectivos que priorizamos para poder concluir se se trata de um espaço público democratizado.
Ademais, para analisar os nossos patrões de mobilidade é preciso considerar também a influência dos hábitos e dos estilos de vida (o exercício da individualidade, a protecção do ambiente, os ritmos de vida, a escolha de fórmulas de vida mais sustentáveis...). Um uso racional dos recursos de que dispomos implicaria repensar os patrões imperantes baseados na primazia do veículo particular e potenciar os deslocamentos mais sustentáveis (modos de deslocamento colectivo e modos não motorizados), que favoreçam o respeito pelo ambiente e pelo cuidado da nossa saúde (menos contaminação e mais actividade física seriam os benefícios imediatos). Disto deduze-se a necessidade de abordar a matéria desde um ponto de vista cívico que ponha o foco no respeito pelas normas de convivência no uso do espaço público por parte de toda a cidadania. É preciso garantir a presença e a segurança de todas as pessoas no exercício dos seus deslocamentos e usos no espaço de todos, assegurando o respeito pelas normas de mobilidade a favor da segurança desde uma especial preocupação pelos colectivos mais vulneráveis no uso da via pública (crianças, maiores, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida).
O objectivo principal desta matéria é formar o estudantado em todos os aspectos relacionados com a mobilidade fundamentando nos princípios de bem-estar, convivência, segurança, eficiência, igualdade e corresponsabilidade. Está intimamente ligada à competência social e cívico (CSC), por ser a mobilidade um direito de toda a cidadania e um exemplo de expressão da convivência num espaço partilhado e da adopção de hábitos de vida saudáveis. Relaciona-se também com a consciência e expressão cultural (CCEC) pois inculca o respeito pelos recursos patrimoniais e paisagísticos e incorpora a recuperação de espaços públicos por meio da dignificación artística e do cuidado e manutenção da rua. Para o tratamento da matéria na sala de aulas, e ao amparo do desenvolvimento do sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) sugere-se a realização de um projecto que permita observar, analisar e intervir sobre os patrões de mobilidade na comunidade em que se vive, fazendo com que o estudantado desenvolva o espírito crítico através do questionamento dos patrões dominantes e dos desequilíbrios produzidos pelo sistema actual, exemplificados fundamentalmente na alta taxa de sinistralidade de determinados colectivos, na predominancia dos veículos na ocupação do espaço público e no aumento exponencial da despesa energética e da contaminação. Durante a elaboração do projecto aplicar-se-ão técnicas de análise de problemas e de tomada de decisões, pontos fortes da competência matemática, científica e tecnológica (CMCCT), utilizando diferentes fontes de informação e apoiando-se nas TIC (competência digital, CD), com uma metodoloxía de trabalho em equipa, respeitando as opiniões de todas as pessoas participantes e avaliando e partilhando os resultados com a comunidade educativa (comunicação linguística, CCL; aprender a aprender, CAA).
O primeiro bloco, Projecto de mobilidade, é um bloco instrumental. Contribui à aprendizagem da metodoloxía baseada em projectos. Propõe a elaboração de um projecto de mobilidade que o estudantado deve realizar ao longo do curso e expõe diferentes ferramentas (incluindo as TIC) de tomada de decisões e análise de problemas para desenvolvê-lo de modo colaborativo. A ideia é que as actividades se integrem numa metodoloxía de trabalho em equipa que através de um diário, e um portfolio de evidências achegadas pelo estudantado, construa um projecto ao remate do curso. Esta proposta pode-se modelizar como de aprendizagem-serviço já que o estudantado é quem de analisar o seu contorno, denunciar os desequilíbrios detectados e de achegar ideias para melhorá-lo. Supõe um processo de investigação e análise da realidade no qual, partindo dos problemas práticos, se procede a uma reflexão e actuação sobre a situação com o objecto de melhorá-la, implicando no processo as pessoas que vivem o problema.
O segundo bloco, Espaços para a mobilidade, fornece conteúdos para conhecer e descrever os elementos que conformam os espaços públicos, pondo o foco nos espaços empregues para os deslocamentos e valorando especialmente os modelos imperantes através da análise do seu desenho, dos usos e da sua funcionalidade. Também se incluem as fontes de informação geográfica relacionadas com a mobilidade e as infra-estruturas, já que são indispensáveis para planificar os deslocamentos e conhecer o estado em que se encontram. O trabalho com sitio web de referência e com as aplicações informáticas e para telemóvel que empregamos na vida quotidiana contribuirão à localização geográfica e permitirão a recolhida de dados necessários para analisar e compreender a mobilidade.
O terceiro bloco, Princípios e róis de mobilidade. Normativa e segurança, aborda, por uma banda, a temática das normas e os valores éticos que há arredor da mobilidade sustentável e segura, assim como os passos que é preciso seguir em caso de acidente. Tem como objectivo que o estudantado considere a importância de reconhecer o valor da percepção do risco, dos valores cívico no uso partilhado dos espaços públicos, e da necessidade de cumprir as normas para garantir os direitos de uso de todas as pessoas nos seus deslocamentos. A posta em valor das normas de convivência e da necessidade de adoptar medidas de segurança passa necessariamente pela reflexão sobre as causas e as consequências dos sinistros viários, que são o exemplo mais dramático da transgresión destas normas de convivência. Por último, fecha-se o currículo com os róis de mobilidade para abordar a temática que tradicionalmente conhecemos como educação viária, e que nestas idades deve abordar desde os róis que tem o estudantado destinatario da matéria: peões, ciclistas e viajantes/as. A orientação deste bloco é procedemental e tem como objectivo desenvolver destrezas concretas para actuar de modo correcto nas supracitadas situações de trânsito. Para o exercício destas habilidades é preciso pôr o foco na aquisição do sentido e consciência do risco e no conhecimento dos direitos e obrigações que os atingem para que possam mover no espaço público com pautas de conduta seguras e cívico.
Finalmente, devemos indicar que se trata de uma proposta curricular baseada na prática, que põe em valor os indivíduos e também a comunidade a partir da análise de situações concretas de mobilidade que o estudantado já experimenta ou que experimentará num futuro próximo. Por isso é recomendable que se realizem saídas escolares que reforcem o aprendido em colaboração com outras matérias, por exemplo Educação Física, que em 1º de ESO tem critérios de avaliação relacionados com as actividades de trail e bicicleta, entre outras.
|
Mobilidade Escolar Sustentável e Segura (1º/2º curso da ESO) |
||||
|
Objectivos |
Conteúdos |
Critérios de avaliação |
Standard de aprendizagem |
Competências |
|
Bloco 1. Projecto de mobilidade |
||||
|
• e • f • g |
• B1.1. O conceito de projecto. |
• B1.1. Diferenciar que iniciativas e tarefas são projectos e cales não. |
• MESS B1.1.1. Reconhece as características principais de um projecto. |
• CCL • CSIEE |
|
• e • f • g |
• B1.2. Exemplos de projectos da vida real em diferentes âmbitos, e com diferentes alcances. Investigação através de diversas fontes. |
• B1.2. Identificar projectos na vida real em diferentes âmbitos de conhecimento e sectores económicos, com diferentes alcances e empregando diferentes fontes, em especial relacionados com a mobilidade. |
• MESS B1.2.1. Identifica através de diferentes médios projectos na vida real, já acometidos ou por levar a cabo, de alcance local, regional, nacional ou internacional, focalizando sobre o âmbito da mobilidade. |
• CSIEE • CD |
|
• e • f • g |
• B1.3. Análise de um projecto. |
• B1.3. Reflectir e descrever para cada projecto as necessidades que atende, os problemas que resolve ou achegas de valor para a sociedade. |
• MESS B1.3.1. Identifica e descreve as necessidades que cobrem ou os problemas que procuram resolver determinados projectos. |
• CCL • CSIEE • CAA |
|
• e • f • g |
• B1.4. Análise de um projecto de mobilidade. Espaços, princípios, modelos, resultados, colectivos implicados, dificuldades e propostas de melhora. |
• B1.4. Reflectir e descrever para um projecto de mobilidade os espaços, modelos e princípios sobre os que actua, as fases e produto final, pessoas e colectivos implicados, e as dificuldades acrescentando propostas de melhora. |
• MESS B1.4.1. Identificar, no caso dos projectos de mobilidade, os espaços e princípios de mobilidade concretos sobre os que actua o projecto. |
• CSIEE • CAA |
|
• e • f • g |
• B1.5. Fases do anteprojecto: a) Análise do contorno. 2) Geração de ideias com diferentes técnicas. • B.1.6. Selecção de propostas de projectos com diferentes técnicas. |
• B1.5. Detectar problemas ou necessidades no seu contorno relacionadas com a mobilidade e gerar ideias de novas medidas, soluções, bens ou serviços para a sua emenda, atenção ou melhora empregando diferentes técnicas (chuva de ideias, análise DAFO, diagramas causa efeito, análise de causa raiz...). |
• MESS B1.5.1. Analisa o seu contorno para a detecção de problemas, necessidades e melhoras possíveis no âmbito da mobilidade. |
• CSIEE • CAA |
|
• MESS B1.5.2. Participa na geração de ideias de projectos de investigação em equipa orientados ao desenho e elaboração de propostas concretas para a resolução dos problemas e atenção das necessidades anteriores, através de chuva de ideias, análise DAFO, diagramas causa efeito ou análise de causa raiz. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• MESS B1.5.3. Participa na selecção das propostas de projectos de investigação em equipa, mediante diferentes técnicas. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• a • b • c • d • e • f • g • h |
• B1.7. Fases do projecto: formação de equipas; metodoloxía de trabalho e ferramentas, definição e distribuição de róis e tarefas; início da investigação; propostas de resolução do problema / produto / necessidade; apresentação em equipa da investigação; publicação de resultados em diferentes meios e redes sociais; reflexões finais. |
• B1.6.1. Desenvolver um projecto em equipa desde uma proposta viável até a sua publicação em diferentes meios e formatos. |
• MESS B1.6.1. Participa de modo colaborativo na formação de equipas e na definição de projectos. |
• CSIEE • CAA • CSC |
|
• MESS B1.6.2. Inicia a investigação, seguindo as tarefas e os róis definidos, e com os recursos e ferramentas estabelecidos. |
• CSIEE • CAA • CSC |
|||
|
• MESS B1.6.3. Elabora e apresenta, colaborativamente e com o uso das TIC, proposta(s) para a resolução de problemas, para a atenção de necessidades ou para a aplicação da melhora do projecto fundamentando na investigação da realidade. |
• CSIEE • CD |
|||
|
• MESS B1.6.4. Reflecte com a equipa as lições aprendidas sobre a mobilidade e sobre os trabalhos em equipa em projectos. |
• CSC • CAA |
|||
|
Bloco 2. Espaços para a mobilidade |
||||
|
• a • m |
• B2.1. A ordenação do território na Galiza. Espaços protegidos. Património arquitectónico e natural. |
• B2.1. Reconhecer os principais tipos de paisagens e o seu envolvimento na ordenação do território. |
• MESS B2.1.1. Identifica os diferentes tipos de configuração territorial (urbana, periurbana e rural), os seus elementos formais e as suas funções. |
• CSC • CAA |
|
• a • h |
• B2.2. Espaços públicos. |
• B2.2. Conhecer que se percebe por espaço público e os elementos que o determinam. |
• MESS B2.2.1. Define o espaço público e os elementos que o caracterizam. |
• CCL • CSC |
|
• a • h • l • m |
• B2.3. Espaços públicos; funções e usos; elementos de desenho. Intervenções e habitabilidade e humanização. O espaço público como espaço. O espaço público como direito. |
• B2.3. Identificar os espaços públicos da sua contorna, as funções para as que estão desenhados e que se lhes atribui, e a sua interacção; para valorar a sua idoneidade e detectar possíveis intervenções. |
• MESS B2.3.1. Identifica as funções e usos dos espaços públicos, em geral, e da sua contorna, em particular, e os elementos positivos e negativos. |
• CCL • CSC |
|
• MESS B2.3.2. Reconhece os elementos estéticos, ambientais e humanos que deve ter um espaço público e os valores patrimoniais do meio em que vive. |
• CCEC • CSC |
|||
|
• MESS B2.3.3. Mede o uso que fã do espaço público as diferentes pessoas utentes e valora se se responde a todas as demandas. |
• CCEC • CSC • CAA |
|||
|
• a • g • h |
• B2.4. Espaço público e trânsito. Via pública: definições, tipoloxía e morfologia. Mobilidade escolar. |
• B2.4. Reconhecer os tipos de vias e valorar a forma de trânsito mais ajeitado em cada caso atendendo as necessidades do estudantado. |
• MESS B2.4.1. Expõe a configuração das vias de trânsito no espaço público. |
• CCL • CSC |
|
• MESS B2.4.2. Elabora um itinerario desde um lugar conhecido a outro fora da sua contorna habitual, descrevendo o tipo de transporte que se pode empregar, as vias e calcula as magnitudes associadas (tempo, espaço, custo…). |
• CMCCT • CAA |
|||
|
• MESS B2.4.3. Indaga como se desloca o estudantado para ir ao centro educativo empregando técnicas de investigação social, analisa os resultados e a partir destes elabora itinerarios idóneos. |
• CMCCT • CAA |
|||
|
• a • c • d • g • h |
• B2.5. Modelos de mobilidade, características. Influência da configuração do espaço público na mobilidade. Boas práticas. |
• B2.5. Diferenciar diferentes patrões de mobilidade e valorar o seu impacto sanitário, económico, social e ambiental, reconhecendo o valor da mobilidade alternativa e as estratégias empregadas para promover mobilidades alternativas (acalmado do trânsito, humanização do espaço público, recuperação de espaços...). |
• MESS B2.5.1. Toma consciencializa sobre o impacto dos diferentes patrões de mobilidade e propõe modelos respeitosos com as pessoas e com o meio ambiente. |
• CSC • CAA |
|
• MESS B2.5.2. Valora a mobilidade a pé e em bici como um direito das pessoas que requer da nossa participação activa para que se realize de modo seguro e sustentável. |
• CSC • CAA |
|||
|
• MESS B2.5.3. Realiza uma exposição na que faça um balanço dos factores que determinam que uma pessoa opte por um modo de mobilidade ou outro. |
• CL • CAA |
|||
|
• MESS B2.5.4. Identifica as estratégias de melhora consideradas como boas práticas e analisa as suas possibilidades de transferência ao meio em que vive. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• e • f |
• B2.6. Sistemas de informação geográfica relacionados com a mobilidade, o trânsito e o desenho de rotas. Motivação dos percorridos peonís. |
• B2.6. Interpretar fontes de informação geográfica relacionada com a mobilidade e com as infra-estruturas e usar as novas ferramentas tecnológicas para planificar rotas e desenhar trajectos seguindo critérios relacionados com a morfologia urbana (tramas urbanas, traçado dos percorridos, urbanismo arquitectónico...) e valorando os factores que influem nas escolhas das pessoas (humanização, atractivo, frecuenciación, diversidade de usos, barreiras arquitectónicas). |
• MESS B2.6.1. Interpreta mapas relacionados com a mobilidade, compara diferentes trajectos e determina qual é o idóneo explicando os seus critérios. |
• CSIEE • CAA |
|
• MESS B2.6.2. Acede a diferentes portais de informação para trabalhar os percursos, extrai informação e analisa-a. |
• CCL • CD |
|||
|
• MESS B2.6.3. Indaga sobre os factores que influem nas escolhas das pessoas à hora de decidir uns percursos ou outros. |
• CAA • CSIEE |
|||
|
Bloco 3. Princípios e róis de mobilidade. Normativa e segurança |
||||
|
• a • f |
• B3.1. Princípios fundamentais de mobilidade para o uso da via pública: segurança, fluidez, funcionalidade, comodidade, economia e não-contaminação. |
• B3.1. Conhecer os princípios que é preciso seguir como utentes da via pública para garantir a mobilidade sustentável, saudável, segura e cívico. |
• MESS B3.1.1. Conhece os princípios fundamentais de mobilidade sustentável, saudável, segura e cívico e indaga sobre como pô-los em prática. |
• CSC • CAA |
|
• a • c • d |
• B3.2. Normativa dos espaços públicos relacionada com a mobilidade. Direitos e deveres das pessoas que o usam. Regulação do uso da via pública. |
• B3.2. Descrever a sua contorna escolar e as zonas públicas. Conhecer as normas, as autoridades e as suas funções, e saber onde informar-se em caso de dúvidas, para desenvolver valores cívico e hábitos de convivência e programar acções que impliquem ocupação do espaço público. |
• MESS B3.2.1. Conhece normas básicas de uso dos espaços públicos e de trânsito do lugar em que reside. |
• CSC • CAA |
|
• MESS B3.2.2. Reconhece a importância da existência da normativa para garantir a socialização das normas de convivência e põe exemplos tirados da vida quotidiana. |
• CSC • CAA |
|||
|
• MESS B3.2.3. Desenha uma acção de ocupação da via pública ao amparo da normativa vigente. |
• CAA • CSIEE |
|||
|
• a • g • h • m |
• B3.3. Segurança viária: sinistralidade, causas, classes, incidências e consequências. Colectivos vulneráveis. Percepção do risco. Propostas de melhora. |
• B3.3. Compreender o significado de sinistralidade viária, as suas causas e classes, a incidência que tem no nosso contorno, as consequências que derivam dela e as medidas de prevenção que se podem adoptar para a sua prevenção. |
• MESS B3.3.1. Estuda os elementos que determinam a sinistralidade nas vias e as suas consequências, e percebe os riscos que põem em perigo a sua vida e a dos demais. |
• CSC • CAA |
|
• MESS B3.3.2. Percebe o sentido das acções reparadoras do dano. |
• CSC • CAA |
|||
|
• MESS B3.3.3. Identifica com uma categorización singela as debilidades, as ameaças, as fortalezas e as oportunidades que oferece o seu território para a mobilidade segura, saudável, sustentável e cívico. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• MESS B3.3.4. Realiza uma campanha de conscienciação dentro da sua comunidade para denunciar as más práticas nos deslocamentos e no uso que se faz da via pública. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• MESS B3.3.5. Estabelece percursos e trajectos num plano singelo do lugar em que vive e valora os trajectos. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• a • g • m |
• B3.4. O conceito de atenção, concentração e distracção. Diferença entre distracção e transgresión. Consequências das distracções. Elementos que afectam o nível de atenção. |
• B3.4. Identificar os elementos, factores e atitudes que provocam as distracções (telemóvel, auriculares, aparelhos táctiles, consumo de álcool e drogas, tabaco, são-no, cansaço, preocupações...), investigar e analisar dados sobre sinistralidade e valorar a responsabilidade pessoal. |
• MESS B3.4.1. Percebe o risco que implica o uso de distractores em situações de mobilidade. |
• CAA |
|
• MESS B3.4.2. Experimenta os efeitos e as consequências que supõe para a atenção o facto de simultanear várias acções. |
• CSC |
|||
|
• MESS B3.4.3. Conhece os efeitos do cansaço, do são-no e do consumo de álcool e de outras drogas na saúde e como afectam a diminuição da atenção. |
• CSC |
|||
|
• MESS B3.4.4. Valora a responsabilidade pessoal na incidência dos factores de transgresión (álcool, drogas) face à incidência de outras causas de distracção (são-no, cansaço). |
• CSC |
|||
|
• MESS B3.4.5. Investiga e analisa os dados estatísticos e as consequências associadas a acidentes provocados por distracções. |
• CMCCT |
|||
|
• a • b • h |
• B3.5. Segurança viária em contornos escolares. |
• B3.5. Conhecer os elementos de segurança viária aconselhados para a mobilidade no contorno escolar e nas actividades programadas para o estudantado. |
• MESS B3.5.1. Identifica as características que definem os contornos escolares no marco da segurança viária e valora as medidas de segurança adoptadas e adoptables no contorno do centro. |
• CSC • CSIEE |
|
• MESS B3.5.2. Estabelece um protocolo de normas que regulem as saídas extraescolares do estudantado com o fim de garantir a sua segurança e o seu bem-estar. |
• CAA • CSIEE |
|||
|
• a • g • h • l • m |
• B3.6. Actuação (obrigatória) em caso de acidente de mobilidade. A conduta PÁS (proteger, avisar e socorrer). Corrente de sobrevivência. |
• B3.6. Conhecer normas básicas no protocolo de actuação ante um acidente. |
• MESS B3.6.1. Realiza simulacros e valora a importância de atender a tempo e bem em caso de acidente e de estar formados na conduta PÁS e na corrente de sobrevivência. |
• CSC • CSIEE |
|
• a • c • d |
• B3.7. Róis de mobilidade do estudantado: peão, ciclista e viajante em transporte privado e colectivo. |
• B3.7. Reconhecer o rol e os riscos que assumimos quando nos movemos segundo os elementos empregues: a pé, em bicicleta, em transporte privado e colectivo. |
• MESS B3.7.1. Identifica quais são os modos de deslocamento habituais no seu contorno e indaga sobre as suas circunstâncias. |
• CCL • CSC |
|
• MESS B3.7.2. Identifica a pirámide de prioridades que se dá no seu contorno e compara-a com modelos respeitosos com as pessoas. |
• CSC • CAA |
|||
|
• MESS B3.7.3. Mostra compreensão para as pessoas que se manejam com mais dificultai no espaço público. |
• CSC |
|||
|
• MESS B3.7.4. Adapta as técnicas de progressão ou deslocamento às mudanças do meio, priorizando a sua segurança pessoal e colectiva. |
• CAA |
|||
|
• a • c • d |
• B3.8. Princípios fundamentais que devem seguir os peões. Segurança dos peões. Princípio da integridade física. Desenvolvimento de atitudes, valores e competências como peão. Direitos e deveres no trânsito. |
• B3.8. Saber questões básicas de trânsito seguro para os peões, os seus deveres e direitos e pôr em prática condutas seguras nos deslocamentos escolares. |
• MESS B3.8.1. Analisa os riscos em diferentes espaços e vias pelas que se move e busca a sua segurança e o seu bem-estar. |
• CAA • CSC |
|
• a • m |
• B3.9. Vantagens de ir caminhando à escola e a lugares acessíveis. Relação entre esta prática e a saúde. |
• B3.9. Identificar os modos sustentáveis dos deslocamentos, entre eles caminhar e associar com a qualidade de vida e a saúde. |
• MESS B3.9.1. Relaciona hábitos saudáveis como caminhar com a qualidade de vida. |
• CAA • CSC |
|
• MESS B3.9.2. Relaciona hábitos não saudáveis como o sedentarismo e o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas com os problemas de mobilidade. |
• CAA • CSC |
|||
|
• a • c • d |
• B3.10. Princípios fundamentais que devem seguir os ciclistas. Normativa para ciclistas: direitos e deveres. Segurança dos ciclistas: o capacete. Elementos de segurança na bicicleta. Desenvolvimento de atitudes, valores e competências como ciclista. |
• B3.10. Conhecer normas básicas para o uso seguro da bicicleta no espaço público. |
• MESS B3.10.1. Conhece os direitos que tem quando se move em bicicleta e as condutas e hábitos recomendables. |
• CAA • CSC |
|
• MESS B3.10.2. Realiza simulações para exemplificar as manobras que se devem utilizar nos deslocamentos em bicicleta. |
• CAA • CSC |
|||
|
• a • m |
• B3.11. Vantagens de ir de bicicleta à escola e a outros lugares acessíveis, para a saúde e para o ambiente. Outros meios de transporte escolar (patíns e patinetes). |
• B3.11. Saber as vantagens que nos oferece o uso da bicicleta, a nível de saúde pessoal e ambiental. |
• MESS B3.11.1. Valora os benefícios de usar a bicicleta como médio de deslocamento. |
• CAA • CSC |
|
• a |
• B3.12. Tipos de meios de transporte públicos e privados. Localização e acessibilidade. |
• B3.12. Reconhecer os tipos de transporte e valorar a importância dos médios de transporte públicos para a mobilidade. |
• MESS B3.12.1. Reflecte sobre os meios de transporte existentes e as suas vantagens e inconvenientes a respeito da segurança e sustentabilidade. |
• CCL • CSC |
|
• a • e • g • h |
• B3.13. Princípios fundamentais que devem seguir os/as viajantes/as. Normativa para quem viaja em transportes públicos e privados: direitos e deveres. Segurança das pessoas que viajam segundo o meio de transporte empregue. Desenvolvimento de atitudes, valores e competências como viajante. |
• B3.13. Actua com responsabilidade no exercício dos seus percursos cumprindo as medidas de segurança. |
• MESS B3.13.1. Justifica a idoneidade dos principais elementos de segurança nos médios de transporte. |
• CCL • CSC |
|
• MESS B3.13.2. Simula ou pratica diferentes medidas de protecção para a realização de trajectos como viajante com a ajuda de supostos práticos colaborativos. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• MESS B3.13.3. Investiga quais são os pontos fortes e débis (DAFO) nos deslocamentos que realiza a miúdo como viajante. |
• CSIEE • CAA |
|||
|
• a • g • m |
• B3.14. Vantagens e limitações de uso do transporte público, estimação de tempos, custos económicos e custos sociais (contaminação…). |
• B3.14. Saber as vantagens e limitações que nos oferece o uso do transporte público a respeito da sustentabilidade. |
• MESS B3.14.1. Valora as vantagens e limitações de uso do transporte público e as novas formas de partilhar veículos. |
• CSC |